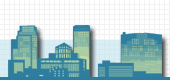
| PG - Aula Apresentada | 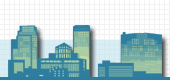 |
|
Organização, Morte e Imortalidade Os homens são os únicos seres vivos que têm consciência da morte. Eles passam boa parte das suas vidas tentando negar a realidade presente da morte, remetendo bem para o fundo do inconsciente os seus medos mórbidos. Esses medos baseiam-se nas suas próprias insuficiências, vulnerabilidades e mortalidade. Partindo desta ideia podemos encontrar outros pontos de vista sobre a cultura e as organizações e encontrar justificações para muitos dos nossos actos como fugas da nossa própria mortalidade. Por exemplo, ao nos juntarmos com outras pessoas para a criação da cultura composta por um conjunto de normas, crenças, ideias e práticas sociais compartilhadas, estamos a tentar fazer parte de algo mais duradouro do que nós mesmos. Ao criarmos um mundo que pode ser percebido como real e objectivo, reafirmamos a natureza real e concreta da nossa própria existência. Embora durante tempos tranquilos possamos confrontar-nos com o facto de que vamos morrer, grande parte da nossa vida quotidiana é vivida dentro da realidade artificial criada através da cultura. Esta ilusão de realidade ajuda a disfarçar o nosso medo inconsciente de que tudo seja altamente vulnerável e transitório. Segundo Becker, os artefactos da cultura podem ser compreendidos como sistemas de defesa que auxiliam a criar a ilusão de que somos maiores e mais poderosos do que na realidade somos. A continuidade e o desenvolvimento que encontramos nos sistemas religiosos, na ideologia, na história nacional e nos valores compartilhados, ajudam-nos a acreditar que somos parte de um modelo que continua bastante além dos limites da nossa própria vida. Esta perspectiva sugere que é possível compreender organizações e muito do comportamento dentro delas em termos de uma busca de imortalidade. Ao criarmos organizações, estamos a criar estruturas de actividade que são maiores do que a vida e que, frequentemente, sobrevivem por gerações. E, ao nos identificarmos com estas organizações, encontramos significado e permanência. À medida que nos objectivamos em termos dos produtos que fabricamos ou do dinheiro que ganhamos, fazemo-nos visíveis e reais para nós mesmos. É por esta razão que não é de admirar que, as questões de sobrevivência, sejam uma prioridade tão grande nas organizações, uma vez que existe um jogo muito mais do que a simples sobrevivência da organização. Outra abordagem sugere que o homem tem tendência a criar o mito de que somos mais poderosos do que realmente somos. Grande parte do conhecimento através do qual organizamos o nosso mundo pode ser visto como algo que nos protege da ideia de que, em última análise, provavelmente compreendamos e controlemos muito pouco. Arrogância frequentemente mascara fraqueza e a ideia de que seres humanos, tão pequenos, fracos e transitórios podem organizar e gabar-se de dominar a natureza é, de muitas formas, um sinal da sua própria vulnerabilidade. As pessoas utilizam na vida quotidiana mitos, rituais e modelos detalhados de envolvimento para se defenderem contra a consciência da sua fragilidade. Ao investirmos o nosso tempo e energia num projecto, convertemos o tempo que passa em algo concreto e duradouro. Segundo Becker, as preocupações excessivas com produtividade, planeamento e controlo são um meio de preservar e proteger a vida diante da morte. Organização e Ansiedade Melanie Klein foi uma psicóloga que viveu entre 1882 e 1960. O seu trabalho baseia-se na premissa de que desde o início da vida a criança experimenta desconforto associado ao instinto de morte e ao medo de aniquilação. Este medo instala-se sob a forma de “ansiedade persecutória”. A fim de suportar essa ansiedade, a criança desenvolve mecanismos de defesa. Na visão de Klein, isto ocorre primeiro em relação ao seio materno ou àquilo que o substitui e que a criança identifica com experiências boas e más, distinção essa que se encontra na origem da dicotomia entre os sentimentos de amor e ódio. Enquanto que as experiências com o “seio bom” fornecem um ponto de afirmação e integração para a existência da criança, experiências com o “seio mau” (quando a alimentação é insuficiente, lenta ou difícil) tornam-se o foco de ansiedades persecutórias dentro da criança. Essas ansiedades são projectadas no “seio mau” que é frequentemente atacado com raiva. Embora a divisão entre seio bom e mau ocorra dentro das fantasias inconscientes da vida da criança, os seus efeitos são reais. Há uma tradução para modelos específicos de sentimentos, relações objectais e processos de raciocínio que possuem sério impacto na vida futura. A criança separa os sentimentos bons dos maus, interiorizando-os e aproveitando-os, frequentemente como um meio para negar a existência de estados ameaçadores. Ao mesmo tempo, ataca os maus, frequentemente projectando-os para o mundo exterior. Segundo Klein, a criança passa por uma fase persecutória (paranóide-esquizóide) durante os primeiros meses de vida, entrando depois, numa “posição depressiva”, em que a criança começa a perceber que o seio bom e o mau são os mesmos e que estava atacando e odiando aquilo que era também amado. Klein acreditava que os medos de perseguição dentro da criança permaneciam fortes ao longo da vida da criança, fazendo com que esta tenha grandes dificuldades em deixar a posição paranóide-esquizóide e evoluir até à necessária fase depressiva. Dessa forma, essas primeiras experiências podem tornar-se foco de médio, ódio, inveja, raiva, sadismo, frustração, culpa, paranóia, obsessão, depressão, fantasias e outros sentimentos que são transportados para o inconsciente e transferidos para outros objectos e relações. Klein sugere que a experiência adulta reproduz defesas contra a ansiedade originariamente formada na primeira infância. Desta perspectiva, é possível compreender a estrutura, o processo, a cultura e até mesmo o ambiente de uma organização em termos dos mecanismos de defesa desenvolvidos pelos seus membros para lidarem com a ansiedade individual e colectiva. Wilfred Bion mostrou que grupos frequentemente regridem a padrões de comportamento infantil para se protegerem de aspectos desconfortáveis do mundo real. Por exemplo, quando surgem problemas que desafiam o funcionamento do grupo, este tende então a desviar a sua energia do desempenho da tarefa e usá-la para se defender das ansiedades associadas à nova situação. Muitas vezes surgem situações nas empresas em que a dinâmica dos factos faz surgir tal angústia que acabamos por perder de vista as tarefas que deveriam ser desempenhadas. Bion demonstrou que em tais situações geradoras de ansiedade, os grupos tendem a adoptar um dos três estilos de actuação que serão descritos a seguir e que utilizam diferentes tipos de defesa contra a ansiedade:
Ø Modelo de “dependência”. O grupo tem necessidade de alguma forma de liderança para resolver a situação problemática. A atenção do grupo é desviada dos problemas presentes e projectada sobre um indivíduo em particular. Frequentemente, os membros do grupo declaram-se incapazes para lidar com a situação e idealizam as características do líder escolhido. O grupo projecta então a sua energia sobre um símbolo atraente do passado, centrando-se na forma pela qual as coisas costumavam ser. Em vez de enfrentar a actual realidade. Tal clima facilita um líder potencial emergir e assumir a responsabilidade pelos problemas do grupo. Entretanto, frequentemente herda uma situação bastante difícil, já que a simples existência de um líder fornece uma desculpa para a inactividade pessoal por parte dos outros. Como resultado, o líder costuma falhar e é logo substituído por outra pessoa, que também costuma falhar. O problema continua, gerando algumas vezes o fraccionamento do grupo e brigas internas. Ø Modelo de “emparelhamento”. Este processo envolve uma fantasia na qual os membros do grupo começam a acreditar que uma figura messiânica irá surgir para livrar o grupo do seu estado de medo e de ansiedade. A dependência do grupo em relação ao surgimento de tal figura novamente paralisa a sua habilidade de empreender acções eficazes. Ø Modelo de “fuga e luta”. Segundo este modelo, o grupo tende a projectar os seus medos num inimigo de algum tipo. Este inimigo incorpora a ansiedade persecutória inconsciente vivenciada pelo grupo. O inimigo pode tomar a forma de um concorrente, de medidas governamentais, de uma atitude pública ou da existência de uma pessoa ou organização em particular que nos parece ter surgido “para nos agarrar”. Embora una o grupo e viabilize um tipo forte de liderança, o processo de “fuga e luta” tende a distorcer a apreciação do grupo sobre a realidade e, consequentemente, a sua capacidade de enfrentá-la. Tempo e energia são gastos para lutar ou para proteger o grupo do perigo percebido, em lugar de se tentar ter uma visão mais equilibrada dos problemas evidentes na situação. As pessoas constroem realidades nas quais ameaças e preocupações dentro do inconsciente tornam-se incorporadas em estruturas que visam lidar com a ansiedade do mundo exterior. As pessoas podem projectar essas preocupações inconscientes enquanto indivíduos, ou então, através de padrões de carácter inconsciente que despertam medos comuns, preocupações e ansiedade geral. Muitos papeis organizacionais são foco de vários tipos de ansiedades paranóicas ou persecutórias, nas quais as pessoas projectam maus impulsos e objectos no ocupante do papel que, mais frequentemente do que se pensa, irá introjectar estas projecções ou desviá-las para outro lugar. Por exemplo, o primeiro-oficial dum navio é tipicamente considerado responsável por várias coisas que acabam por sair errado, mesmo não sendo o responsável por elas. Todos os tipos de bodes expiatórios nas organizações desempenham funções similares. São pessoas em papéis que “todos adoram odiar”, convenientes “criadores de caso”, “desajustados” e pessoas que “simplesmente estão fora das regras do jogo”. Fornecem foco para a raiva inconsciente e para as tendências sádicas, aliviando a tensão dentro da organização e mantendo-a unida. Este tipo de defesa paranóica é frequentemente um aspecto das relações de trabalho, sendo os maus impulsos projectados em diferentes grupos que são percebidos como vilões ou fonte de problemas e que se tornam alvo de atitudes e acções de vingança. Em algumas situações, líderes são incapazes de desenvolver relacionamentos próximos com os seus colegas e subordinados, seja devido a medos inconscientes, seja devido a algum tipo de raiva ou inveja inconscientes que fazem com que estes não tolerem qualquer traço de rivalidade. Tais preocupações podem motivar o dirigente a manter o controlo, dividindo e comandando os subordinados de modo a certificar-se de que estes serão “mantidos nos seus lugares”. Muitas vezes, os medos inconscientes impedem que o líder seja capaz de aceitar ajuda e conselhos genuínos. Quando as relações são dominadas por este tipo de competição inconsciente, o líder acaba por ficar isolado, propiciando aos subordinados uma situação ideal para que se unam de uma maneira, que pode, na verdade, levar à sua destituição. A habilidade de criar união e um sentimento de propósito, frequentemente depende da habilidade de direccionar impulsos destrutivos para o inimigo. Quando são direccionados para o interior, surgem situações em que as pessoas bloqueiam o sucesso dos seus colegas devido à inveja, porque temem não serem capazes de conseguir esse mesmo sucesso. Este processo oculto pode minar a capacidade de desenvolver o espírito de cooperação do grupo, espírito esse que exige que os membros aproveitem o sucesso, não só através da afiliação com outros membros de sucesso, mas também através das próprias realizações pessoais. Novamente, ansiedades persecutórias não resolvidas e que invariavelmente inibem o aprendizado, uma vez que impedem as pessoas de aceitar críticas e de corrigir os seus defeitos, podem levar a um tipo de cultura caracterizado pelos mais diversos tipos de tensão e de defesa. Organização, Bonecas e Ursinhos de Peluche Quando criança, a maioria de nós teve um brinquedo favorito, ou um objecto especial ao qual dedicávamos muita atenção e do qual não podíamos virtualmente nos separar. A tais brinquedos ou objectos vamos chamar “objectos intermediários”. O psicanalista Donald Winnicott sugere que estes são críticos para o estabelecimento de distinções entre o “eu” e o “não eu”, criando aquilo que denomina uma “área de ilusão” que ajuda a criança a desenvolver relações com o mundo exterior. Se o objecto ou fenómeno preferido for modificado (por exemplo, lavagem do ursinho), então a criança pode sentir que a sua existência está, de alguma modo, a ser ameaçada. O relacionamento com objectos tais como a boneca, ou o ursinho, continua, durante toda a vida, a ser gradualmente substituído pelo relacionamento com outros objectos ou experiências que intermedeiam a relação de alguém com o seu mundo e ajudam a pessoa a manter um sentido de identidade. Na idade adulta, por exemplo, um objecto de valor, pode actuar como substituto da boneca, simbolizando para nós aquilo que realmente somos e onde nos situamos face ao mundo exterior. Em certas ocasiões, tais objectos e experiências podem ainda adquirir o estatuto de um fetiche ou fixação à qual somos incapazes de renunciar. Em tais casos, o desenvolvimento adulto torna-se bloqueado e distorcido, trazendo um rígido comprometimento com um aspecto particular do nosso mundo, tornando difícil para nós mudar e lidar com a natureza mutável dos nossos ambientes. Segundo Harold Bridger, muitos arranjos organizacionais podem servir como fenómenos intermediários que desempenham papel crítico na definição da natureza e da identidade das organizações e dos seus membros, bem como na definição de atitudes que podem bloquear a criatividade, a inovação e a mudança. Por exemplo, uma empresa pode apegar-se a um aspecto particular da sua história e missão, mesmo que agora opere sob condições nas quais este aspecto não seja muito relevante. Normalmente, o fenómeno a ser preservado é de importância transitória para aqueles que estão envolvidos. Quando tais fenómenos são desafiados, as identidades básicas também são desafiadas. Assim, o medo de perda que isto acarreta frequentemente gera uma reacção desproporcional à importância da questão. A dinâmica inconsciente pode ajudar a explicar por que algumas organizações têm sido incapazes de lidar com as exigências mutáveis dos seus ambientes e porque há frequentemente tanta resistência inconsciente a mudanças nas organizações. A teoria dos objectos intermediários contribui com importantes aspectos ligados à prática do desenvolvimento e mudança organizacional, uma vez que sugere que a mudança irá ocorrer espontaneamente somente quando as pessoas estiverem preparadas para renunciar ao que valorizam em nome da aquisição de algo novo. No sentido de facilitar qualquer tipo de mudança social, podem então ser necessários agentes de mudança que criem fenómenos intermediários quando estes não existem naturalmente. Esta teoria sugere que, em situações de mudança voluntária, aquela pessoa que estiver executando a mudança deverá estar no controlo do processo. Um agente de mudanças deve ajudar a criar aquele espaço de ilusão que é o “bom bastante” para que as pessoas possam explorar as suas situações e as opções que enfrentam. Quase sempre as pessoas necessitam de tempo para reflectir, pensar novamente, sentir e meditar, caso se pretenda que a mudança seja eficaz e duradoura. Se o agente de mudança tentar contornar ou suprimir aquilo que é valorizado, é muito provável que isto ressurja mais tarde.
|
|